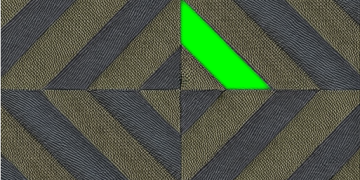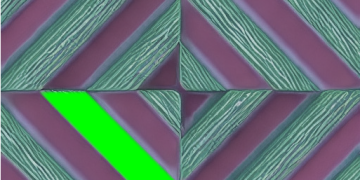Censura, perseguição e opressão não foram suficientes para travar a luta feminina. Ana Lopes, antiga integrante do Movimento Democrático de Mulheres, revela: “Se o 25 de abril, não acontecesse eu não teria a vida que tive”.
As mulheres que viveram o Estado Novo, além de oprimidas, viveram a cultura da ostracização, que as encheu de força na luta pela liberdade que nem todas conseguiram saborear. A Revolução dos Cravos foi o início de uma jornada de reivindicação feminina livre, através de vozes sem receio que, até hoje, procuram alcançar a igualdade plena.
Durante 48 anos, ser mulher em Portugal significava ser uma figura de terceira classe, com uma realidade atrelada a um código civil que a retratava como um ser submisso e tutelado ao “chefe de família”. Com a linha de vida mapeada, o destino feminino era cuidar dos filhos e efetuar os afazeres domésticos. Irene Pimentel, historiadora portuguesa, reconhece a ditadura como o período dos “não pode” para as mulheres: “não podiam sair do país sem a autorização do marido, assinar direitos de autor, exercer cargos de chefia, magistratura judicial e negócios estrangeiros”. Numa sociedade deixada à ignorância, “entre os anos 30 e 40, a taxa de analfabetismo era de 60%, sendo o grosso ocupado por mulheres”, e só podiam votar as que tivessem o ensino secundário, um curso superior e que pagassem um imposto.
A sede de lutar pela liberdade
A repressão fazia-se sentir por todo o lado, sobretudo em terras menores como Coimbra, em que a vigilância assombrava cada recanto. “Um meio muito fechado e controlado” é como Esmeralda Cardoso, antiga professora do ensino secundário, ilustra a cidade dos estudantes em 1967, ano em que lá se estabeleceu para concluir os estudos. O destino habitacional das jovens que para lá iam eram os lares de freiras, visando restringir a sua movimentação ao máximo. “As meninas não iam ao cinema ou ao café porque era feio, estavam completamente limitadas”, conta.
Em 1969, acendeu-se a revolução estudantil que Esmeralda passou na rua com os estudantes, tempos que recorda com um sorriso no olhar: “foi realmente uma vivência indescritível o que se fez nessa altura”. Sedenta pela liberdade, decidiu que queria estagiar em Itália, o que só foi possível através do auxílio do seu patrão, pois até ao momento tinha-lhe sido sempre negado o passaporte. Foi em Novara que, pela primeira vez, provou o gosto de andar na rua sem se preocupar com quem a rodeava. “Foi um espanto. Vi manifestações sem a polícia atrás, sem termos de correr deles e com milhares de pessoas que desfilavam, cantavam e gritavam. Eu passava a vida de um grupo para o outro, a ouvir e ver aquilo que não podia em Portugal. Foi um banho de liberdade brutal”, revela.
A atividade política era mais um exemplo da secundarização feminina, até nos movimentos clandestinos, pois “eram os rapazes que avançavam”. Era no seu carro “muito engraçado e pequenino”, que de noite, Esmeralda e os seus amigos saltavam os muros da ditadura e espalhavam panfletos da oposição por toda a parte. “Isto são pequenas coisas coloridas, de resto foram tempos muito difíceis, porque tínhamos a PIDE à porta”, relata.
Os constrangimentos de ser mulher durante o Estado Novo não foram suficientes para travar a luta feminina que não aceitava a sua diminuição de ânimo leve. Ana Lopes, ex-membro do Movimento Democrático de Mulheres (MDM), recorda-se de na escola a ensinarem a si e às colegas que o seu destino era serem as “fadas do lar” e tomarem conta dos filhos. Entre risos, conta: “os nossos livros eram terríveis. Tinham meninas a dizer que queriam ser donas de casa, e mães que mandavam as filhas pôr na mesa a comidinha para o irmão ou o pai.”
Em 1968, mudou-se para Coimbra, que se revelou uma desilusão no primeiro ano, pois, os professores eram “desinteressantes” e a única aula que apreciava era dada por um docente “que tratava as alunas de forma pouco digna”. Nos exames era comum mandar as estudantes coser meias, além de as insultar. Com os olhos marejados descreve: “Eu assisti a cenas de humilhação nas avaliações, era muito duro”. No ano seguinte, com o desencadeamento da crise académica, despertou-se uma nova realidade com a qual sempre sonhou: “o ver lutar”.
Ciente das injustiças a que as mulheres estavam sujeitas, em 1973, Ana Lopes entrou no MDM. Antes da revolução, as atividades “eram muito sigilosas”, consistindo principalmente na afixação de panfletos pela cidade. Para Ana Lopes esse ano foi recheado de acontecimentos importantes, como o primeiro encontro nacional de mulheres do MDM. “No fundo, estávamos a antecipar o 25 de Abril”, refere e sorri em seguida.
“Queremos tempo para viver”
A Revolução dos Cravos semeou a liberdade, mas sobretudo proporcionou novos recomeços para as mulheres, através de palavras sem mordaças e gestos despidos de medo. Esmeralda não consegue esconder o entusiasmo ao enunciar as conquistas de Abril, desde o direito ao divórcio, o aborto e a criação de um Serviço Nacional de Saúde. Com o novo sistema de saúde, o universo feminino passou a ter acesso a cuidados durante a maternidade, que para si foi “qualquer coisa de espantoso”. Apesar das várias vitórias, para a mulher de Abril “não está ainda tudo conquistado”, espelhado na quantidade de mulheres atualmente assassinadas no contexto de violência doméstica. Para Esmeralda, “o crime de maus-tratos e violação continua esmagadoramente por denunciar e punir, porque o sistema protege o criminoso e fere a vítima”.
“Se o 25 de Abril, não acontecesse, eu não teria a vida que tive”, realça Ana Lopes. A seu ver, a revolução significou o reconhecimento da igualdade de oportunidades, o acesso livre à profissão, o direito à instrução, à cultura e ao voto. Há dias, quando se deslocou ao hospital para uma consulta com o marido, foi como se a mudança estivesse diante dos seus olhos. “Passou um bando onde eram todas raparigas aspirantes a médicas, o que antes era impossível”, sublinha.
Foi em 1975 que pela primeira vez todas as mulheres puderam votar, incluindo Ana, que não pôde deixar de ficar impressionada com a quantidade de companheiras que lá estavam. “Eu acho que as mulheres foram a parte da sociedade que mais ganhou com o 25 de Abril, foi uma experiência riquíssima”, declara. A cultura também se tornou parte da sua vida, visível “nas amigas do movimento que passaram a pertencer a coros, ir ao teatro e ao cinema, coisas que nunca tinham feito”.
Passados 50 anos, as injustiças associadas à sua condição permanecem, especialmente no tempo livre que lhe resta. “Eu penso numa mulher que se levanta cedo para tratar das crianças, mandá-las para a escola, depois vai para o trabalho, volta para casa, faz o jantar, dá banho às crianças, que tempo lhe resta?”, questiona. “Queremos tempo para viver”, é o cerne das manifestações atuais do MDM, e que, segundo Ana Lopes, não vão terminar, enquanto não se “cumprir a luta de Abril”.