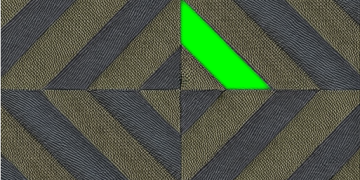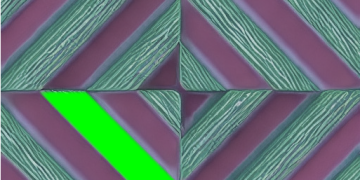Há 50 anos acontecia a Revolução de 25 de Abril, que pôs fim ao regime Salazarista. Rosalina conta como era a vida de uma mulher no meio rural durante esse período e o que mudou com a conquista da liberdade.
Em 1933, a aprovação da nova Constituição Portuguesa inaugurou o Estado Novo. Ao longo de 41 anos, Portugal esteve sob um regime autoritário onde o lema “Deus, Pátria e Família” estava sempre presente no dia a dia da população. As mulheres tinham de se enquadrar no modelo familiar desejado pela ditadura e, desta forma, eram as mais oprimidas: sem voz e quase sem direitos, estavam controladas através da roupa, comportamento, personalidade e ambições, principalmente no campo, que era um ambiente mais conservador que a cidade.
Hoje, aos 78 anos, Rosalina Branco revela como era a sua vida e a de muitas outras mulheres durante este período.
Quando era criança, Rosalina tinha o sonho de ser enfermeira, mas o seu pai não queria que ela terminasse o ensino primário, por ser mulher. Mais nenhum dos nove irmãos teve o sonho de estudar. Todos tinham de trabalhar e ajudar a sustentar a casa, pois a família tinha dificuldades financeiras.
Ao lembrar-se desse tempo, fica emocionada: “Já as minhas colegas andavam na escola e eu quando as via a ir para a escola chorava”. Acabou por concluir o quarto ano, porque o patrão do seu pai convenceu-o a deixá-la estudar. Recorda-se, ainda, das suas palavras quando, finalmente, lhe deu permissão para ir à escola: “Amanhã, podes ir para a escola. Se no fim ficares bem, dou-te uma prenda. Se ficares mal, dou-te um colheitão.”
Ela confessa ter ficado ansiosa com receio de falhar no exame final que se realizava no terceiro ano e que o pai lhe batesse, quando chegasse a casa. Não foi isso que aconteceu e, como prenda, foi a Fátima a pé com o seu pai e guarda com carinho um “livrinho” comprado no santuário, que tem escrito: “A minha mãe não gostou por eu ser pequenina, mas eu a Fátima cheguei e aprendi a ser peregrina”.
Rosalina destaca a admiração que sente pela figura materna, tendo presente na sua memória a imagem dela. “Penso muitas vezes nela e no que ela passou a criar os filhinhos todos… Basta dizer que punha no chão um cobertor e as sardinhas para nós. Uma sardinha era dividida para três e às vezes ainda rezingávamos uns com os outros por causa das sardinhas. A vida era muito difícil”.
No que diz respeito à relação do pai com os filhos, as suas irmãs tinham a mesma educação conservadora que ela e os irmãos mais liberdade. Contudo, discordavam das ideologias do pai, mas não se podiam opor “senão era rua”.
A sua realidade estendia-se à maioria das famílias do meio em que vivia, uma pequena aldeia situada no distrito de Leiria. Para além das dificuldades económicas e sociais, o desconhecimento do que realmente se passava no sistema ditatorial era partilhado por todos. Um exemplo dado pela própria foi que ninguém sabia o que acontecia aos presos no forte de Peniche e acreditavam que os reclusos “estavam presos por irem contra o regime e contra o povo”. Foi após a revolução que descobriram as torturas, algo que Rosalina lamenta.
Havia um agente da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) na aldeia, cujo nome era Acácio Pronto. A sua estratégia para que as pessoas revelassem o que pensavam de negativo relativamente ao regime era fingir-se comunista. “Parece que ainda o estou a ver, pequenino de óculos e um astuto de primeira. Ele não era boa pessoa, tanto que antes de morrer ele dizia que nem queria ir à igreja, nem ter padre, nem funeral”.
Sendo dono de uma loja, em dia de eleições “Acácio tinha sempre um barril de vinho no balcão para os homens quando lá fossem beberem”. Apesar de apenas a única professora da aldeia ser autorizada votar para além dos homens, os posicionamentos políticos das mulheres também eram alvos de investigação, de forma indireta. Rosalina conta que todas as mulheres casadas na aldeia calçavam meias opacas e algumas usavam, ainda, um lenço que lhes cobria a cabeça. Quando iam ao estabelecimento, o lojista, que ela caracteriza como “muito simpático”, questionava-as: “Mas porque é que têm de usar meias? Porque é que casam e têm logo de usar meias? “. Como resposta, não podia obter o mínimo indício de descontentamento.
“Não é que fosse o regime que obrigava isso, mas os homens eram tão controladores que eram quase como o Governo. O meu pai nunca me deixou usar uma blusa sem mangas e calças nem pensar. Quando, muito depois, apareceram as minissaias na aldeia credo…foi um escândalo”.
Todavia, ela confidencia que usava as meias opacas, mas nunca utilizou o lenço, mesmo quando o marido queria. A sogra foi a sua apoiante nesta questão: “A minha sogra dizia “Não sejas parva, não uses o lenço porque eu também não uso” e eu fiz o mesmo”.
Aos 17 anos, Rosalina casou-se e com 20 anos, o marido foi destacado para combater em Angola, na Guerra Colonial, durante 26 meses. Com receio do que poderia acontecer ao companheiro e por ainda não ter filhos, trabalhou durante esse período, na agricultura, no cultivo e embalamento de tomates. Ela partilha o contraste que sentiu entre o seu esforço e salário e o dos seus colegas: “Eu trabalhava com o meu irmão e com o meu compadre. Eu era muito habilidosa e encabeçava tomates tal e qual como eles que às vezes andávamos à competição e ganhava muito menos que eles”.
É com um sorriso no rosto que afirma considerar que é por isso que, desde cedo, se tornou uma mulher “de garra e independente”, por lutar para conquistar os seus objetivos, mesmo com as adversidades que surgiram ao longo da sua vida.
Na opinião de Rosalina, o facto de as pessoas do seu quotidiano não questionarem o regime opressor estava relacionado com a dureza do trabalho do campo, pois com o cansaço não havia tempo para pensar sobre a realidade política, uma vez que, o dia iniciava-se antes do nascer do sol e só terminava quando o sol se punha, mediante a vontade do patrão.
Assim que o esposo voltou da tropa, partiram para a Alemanha, em busca de uma melhor condição de vida para o casal e para os filhos. No trabalho, existia uma regulação das horas para se trabalhar e, assim, Rosalina sentiu que tinha melhor qualidade de vida.
Residente no novo país, notou de imediato as diferenças entre os direitos das mulheres alemãs e portuguesas- enquanto umas eram livres, as outras eram oprimidas. Assim que vinha de férias, explicava às pessoas como era o ambiente da Alemanha, mas “elas estavam demasiado entranhadas no regime” principalmente os homens, o que se demonstrou aquando da morte do ditador: “Quando o Salazar morreu, foi para Santa Comba Dão ser enterrado e, por onde passava o corpo, as pessoas choravam. Era uma loucura”.
Porém, ressalta que isto não se aplicava às mulheres, que “sofriam e eram sacrificadas pelo regime”, mesmo que não pensassem em enfrentá-lo. “As mulheres naquele tempo não podiam ter opinião, não podiam falar sequer quando queriam”.
No dia 25 de Abril de 1974, chegou ao trabalho e um colega alemão informou-a que tinha havido um golpe de Estado em Portugal. Inicialmente, teve receio que algo negativo tivesse acontecido aos seus familiares durante a revolução, mas confessa ter ficado aliviada quando percebeu que a revolução foi pacífica: “Foi um dia espetacular. Sinto um grande orgulho”.
Em 1983, quase 10 anos após ter emigrado, regressa ao seu país, para recomeçar a vida, com o dinheiro que tinha vindo a juntar enquanto estava no estrangeiro. Apesar de pensar que “Portugal é Portugal”, sentiu um grande retrocesso em comparação ao local de onde vivia. Na aldeia, nem um dos homens mais ricos que lá vivia tinha casa de banho, o que a leva a dizer que “o pobre hoje vive melhor do que o rico do tempo do Salazar”.
Para a lutadora, as maiores conquistas do 25 de Abril foram a liberdade de expressão e a estipulação de um horário de trabalho. Acredita que existiu uma “grande evolução” desde esse momento até ao presente. O papel da mulher também mudou: “A mulher de hoje em dia, já não é a mulher daquele tempo. Hoje, a mulher não serve só para estar em casa e ter filhos”.
No entanto, Rosalina assume-se receosa pelo futuro: “Estou temendo não por mim, mas pelos jovens ao ver certos políticos a querer voltar ao que eu passei” e aconselha os jovens para que protejam a liberdade conquistada na Revolução dos Cravos. “Nós não devemos ir atrás das promessas, temos que ver o que está para trás e não acreditar em qualquer coisa que nos dizem”.