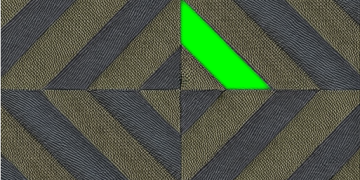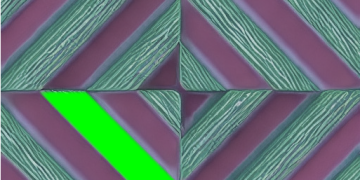Penúltimo domingo de abril antes dos 50 anos de uma data que trouxe a liberdade, presa entre os cravos que se sacudiram pelas ruas de Portugal. Democratizou-se Portugal, limpou-se alguns traços de um país cansado e meritocrático. “Deus, Pátria e Família” palavras que se fizeram ouvir, mas que foram apagadas pelo sangue revolucionário que promulgava ubiquamente a liberdade. Como prega a norma dos estados democráticos deliberam-se temáticas, há espaço para a palavra e para a divergência, no entanto em que medida esta oposição de ideias pode ser um regresso?
No ano de 2007, a interrupção voluntária da gravidez foi legalizada em Portugal e é permitida até à décima semana, desde a última menstruação e desde a confirmação por uma ecografia. Com votos a favor e outros contra, a IVG é reconhecida, por alguns, como um direito. Exemplifica-se o Parlamento Europeu, que aprovou uma resolução que exige que o direito ao aborto deverá ser incluído na carta dos direitos fundamentais da União Europeia.
“Médicos e juristas católicos contra a decisão do Parlamento Europeu sobre o aborto”, lê-se o título de uma notícia publicada no jornal Observador. Dias antes, noticiou-se o livro “Identidade e Família”, que ficou marcado primeiramente pelas declarações do ex-primeiro ministro, Pedro Passos Coelho, e posteriormente, pelas declarações do Professor Catedrático da FDUL, Paulo Otero. O livro reitera-se pelas suas posições contra a “Ideologia de Género”, reconhecida como “Identidade de Género” pelos académicos; pró-família, nos padrões binários de género e heterossexuais; e antiaborto. O calendário marca poucos dias desde estas duas notícias que se expressam contra a resolução do Parlamento Europeu, que também contou com votos contra dos deputados da Aliança Democrática.
Não sobra dúvidas que há um debate sobre a legalização da IVG, e mesmo sendo um direito, ainda há quem a questione. Abriu-se um meio onde as ideologias conservadoras são o foco dos holofotes dos media, afinal vive-se numa democracia. No entanto, não será paradoxal apelar pelo direito de uns, quando se tira o direito de outros? Esta questão desenrola-se sobre o direito de escolher e, nesta crónica, é sobre o de escolher se uma mulher recorre à IVG ou não. O direito da palavra e o direito ao acesso de saúde, parecem diferentes quando se fala em tópicos que convergem a vida ou a morte, mas são bastante semelhantes quando a sua liberdade é posta em causa.
Durante o Estado Novo, debaixo das ombreiras do pilar da “Família”, o aborto não era falado, muito menos questionado. Não era legalizado, não era um direito, era sim um atentado à vida e à família. A mulher era encarada como uma figura materna que garantia a gestação, a submissão, a educação e a lide doméstica. Era um ser inferior que requeria direitos diferentes, como o direito a não sair do país sem a autorização de uma figura masculina; o direito a não votar, até posteriormente poder votar, caso tivesse educação para o fazer; o direito a debruçar-se sobre profissões restritas; o direito a requerer de autorização para tomar contracetivos; e o direito a ganhar quase metade do salário pago aos homens.
A interrupção voluntária da gravidez embora inexistente em termos legais, era existente nos quartos, nas enfermarias e no seio das mulheres que não queriam prosseguir com a gravidez e recorriam a meios para o fazer clandestinamente. A gravidez indesejada passava por remédios como a introdução de um pé de salsa na vagina, até soltar um líquido venenoso; como o chá de loureiro; e picar o útero com agulhas de crochê. Sem assistência médica, recorria-se também a parteiras ou mãos amigas que mal ou bem tentavam ajudar a acabar com a frustração de quem tinha uma gravidez indesejada. A morte era quase certa, quando não era a do feto, era a da mãe, fruto de complicações com o procedimento ou de infeções. O que se considerava um atentado à vida, condicionou a vida das que não queriam ou simplesmente não podiam prosseguir com a gestação até ao fim. O aborto clandestino foi das principais causas de falecimento de mulheres durante a gravidez, chegando às 100 mil mortes por ano. Os métodos contracetivos, aquando da sua legalização, eram encarados, pelos homens, como algo nocivo. Era um sinónimo de libertação e de sexo livre, uma vez que a mulher não iria engravidar.
50 anos desde o abril de 1974, 17 desde a legalização do aborto, em pleno 2024, as mulheres têm o direito de ser. Conseguem sair do país, caso o queiram; conseguem estudar, trabalhar; reivindicar os seus direitos e questionar o sistema patriarcal. No entanto, após estes avanços que permitiram o bem-estar da mulher na saúde e na sociedade, especialmente abolir as mortes causadas pelo aborto em portas fechadas, surgem políticas que visam regredir os progressos feitos e recuperar as ideologias de Salazar, no que toca à conceção de família. A mulher como a dona de casa e a criação de um estatuto; a mulher como um ser que se resume à maternidade, ao lar e à família, entre outros. Estas ideologias conservadoras questionam o bem-estar de uma democracia, onde cada um tem o direito de poder escolher como quer exercer a sua liberdade. Viver em liberdade é respeitar. É não oprimir o outro. É escolher.
Um aborto legal, é um aborto deliberado e seguro, é uma escolha, não uma obrigação. A imposição de doutrinas que controlam o corpo da mulher é uma medida há muito utilizada, mas que veio a cair em desuso. Nestes cinquenta anos, não nos esqueçamos das que já se foram e das que cá estão.